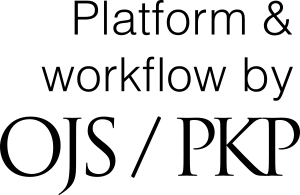RACISMO ESTRUCTURAL Y EL MITO DE LA DEMOCRACIA RACIAL
UN ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS CUOTAS RACIALES
Resumen
Desde la promulgación de la Constitución Federal de 1988, el Estado brasileño se ha afirmado como un Estado social y democrático regido por el Estado de derecho. Uno de los derechos fundamentales garantizados por el CF88 es la igualdad ante la ley. Sin embargo, la historia brasileña y su configuración socioeconómica actual están marcadas por la desigualdad racial, lo que hace que el derecho a la igualdad sea una mera reivindicación formal, sin fundamento fáctico. La tesis de la existencia, en Brasil, de una democracia racial resulta, por tanto, de ignorar la estructura de división racial vigente en el país. El objetivo de este trabajo es discutir el racismo estructural brasileño y el mito de la democracia racial, mostrando cómo este último funciona como instrumento ideológico para mantener la división racial característica de la sociedad y del Estado brasileño. El trabajo también tiene como objetivo presentar cómo las cuotas raciales pueden funcionar como un instrumento eficaz para la transformación de la estructura racial brasileña en la medida en que sirve como una política afirmativa para la inserción de los negros en los espacios de poder del Estado y para el ascenso socioeconómico de Esta porción de la población brasileña ha sido históricamente excluida y relegada a las posiciones más subordinadas de la sociedad.
Citas
ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Jandaíra, 2020.
BARBOSA, Rui. A oração dos moços. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1999.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, [2023a]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 abr. 2023.
BRASIL. Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2023b]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 18. out. 2023.
BRASIL. Lei n° 9.100, de 29 de setembro de 1995. Estabelece normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2023c]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9100.htm. Acesso em: 18. out. 2023.
BUGALLO, Alejandro. Teses básicas do positivismo e suas críticas ao jusnaturalismo. Lex Humana, n. 2, 2009.
CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2008.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.
DECCA, Edgar Salvadori de. O nascimento das fábricas. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.
ENGELS, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo: Boitempo, 2010.
FERREIRA, Nara Torrecilha. Como o acesso à educação desmonta o mito da democracia racial. Ensaio: Aval. Pol. Públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 27, n. 104, p. 476-498, jul./set. 2019.
FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975- 1976). São Paulo: Martins Fontes, 2005.
FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 48. ed. rev. São Paulo: Global, 2003.
GAMA, Luiz. Pela última vez, Correio Paulistano, 3. dez. 1869.
GRÓCIO, Hugo. O direito da guerra e da paz. v. 1. Ijuí: Unijuí, 2005.
HIPPLER, Aldair. Políticas públicas, ações afirmativas e a efetivação dos direitos humanos. 2015. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos) – Departamento de Ciência Jurídicas e Sociais, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), Ijuí, 2015.
HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Educação 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102002_informativo.pdf. Acesso em: 18. out. 2023.
KAMEL, Ali. Não somos racistas: uma reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2012.
LIMA, Rejane Borges Aguiar de Oliveira. O sistema de cotas raciais no Brasil: uma concretização do princípio da dignidade da pessoa humana?. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2019.
MATTA, Ludmila Gonçalves de. Da democracia racial à ação afirmativa: a política de cotas para negros. Revista Jurídica das Faminas, Muriaé, v.3, n.1, jan./jul. 2007.
MOSTESQUIEU, Charles de Secondat. Do espírito das leis. v. 1. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
ORTIZ, Renato. Universalismo e diversidade: contradições da modernidade-mundo. São Paulo: Boitempo, 2015.
SANDEL, Michael. A tirania do mérito: o que aconteceu com o bem comum? Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2020. E-book.
SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.
SEDGWICK, Sally. Fundamentação da metafísica dos costumes: uma chave de leitura. Petrópolis-RJ: Vozes, 2017.
SILVA, Eliaidina Wagna Oliveira da; LIMA, Alba Janes. As cotas raciais na construção da democracia. Revista Mosaico, Rio de Janeiro, v. 12, n. 19, 2020.
VIEIRA, Hector Luís Cordeiro. Direitos humanos, racismo e cotas raciais: a construção de uma democracia antirracista com base no reconhecimento e consideração. Revista Perseu, São Paulo, n.17, Ano 12, 2019.